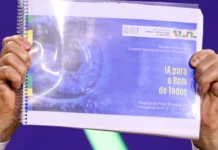Leandro Karnal
Não consigo me recordar ao certo de onde li. Creio que foi um pensador holandês, morto na Segunda Guerra, Huizinga, o autor de uma frase que dá sabor ao que faz o historiador. Parafraseando: quando vamos estudar um episódio, precisamos imaginar que estamos diante de um jogo de cartas. Podemos até saber que há um vencedor, todavia devemos nos colocar no lugar dos jogadores de baralho num tempo em que eles ainda não tinham terminado seu jogo. As cartas não estavam na mesa. As possibilidades estavam nas mãos e na cabeça dos jogadores, na sorte e no imprevisível da vida. Todos à mesa podiam ganhar ou perder.
Cartas na mão.
Explicando melhor: há pelo menos duas atitudes de senso comum em relação ao presente. A primeira é a mais irrefletida delas. São as pessoas que acham que o que vivemos é a única vida possível, uma ordenação natural do mundo, uma ordem imutável no cosmos. Gente assim solta pérolas como “sempre foi assim e sempre será”, achando que encarna um novo Platão ou que emula um profeta do Velho Testamento, interpretando uma mensagem divina aos tolos pecadores.
A segunda é um pouco melhor, porém não muito. A pessoa sabe que o mundo muda, que há historicidade na vida e nos gestos, mas tende a achar que os nossos tempos são o caminho lógico e natural da História, que o passado e o presente estão unidos por um fio de aço que, ao mesmo tempo, serviu de fio de Ariadne para nos trazer até aqui. O presente que vivemos é a consequência natural de um passado que só tinha um caminho a seguir: o nosso.
A frase com que iniciei o texto deixa as coisas mais complexas e nos lembra que, no passado, as pessoas viviam com dilemas e tomadas de decisão como as de hoje. Tem dúvidas do que fazer, qual o melhor caminho a seguir? Já ponderou que, se tivesse seguido tal estrada e não a que escolheu, sua vida teria sido, potencialmente, muito diferente do que é hoje? Pois bem, no passado, os humanos também tinham dúvidas de que caminho seguir. E um historiador precisa lembrar-se do que foi feito, de qual caminho foi efetivamente seguido, todavia também do que quase foi feito, já que, em ambos os gestos, reside o passado, como se vivia e o que se pensava. Se alguém considerou uma hipótese é porque pôde pensar daquela forma.
Churchill, quando anunciou que as tropas deveriam evacuar Dunquerque, deve tê-lo feito depois de considerar outras hipóteses. Apostou alto. Os nazistas, quando dividiram suas forças em vez de esmagar o grosso das tropas aliadas, ilhadas naquele remoto litoral, também apostaram. A história consagrou o episódio como uma derrota militar que levou à vitória final na guerra.
Suponhamos que a campanha da Inglaterra tivesse sido bem-sucedida — e quase o foi; mais um ou dois ataques aos novos radares instalados na costa inglesa teriam deixado os britânicos às cegas e inermes aos ataques da Luftwaffe — e Dunquerque teria outra memória. O que foi, o que efetivamente ocorreu, é apenas uma possibilidade, a carta efetivamente jogada. Mas as que ficaram nas mãos para ser jogadas depois revelam muito. Em resumo: o presente é apenas um fragmento de tempo em um intrincado emaranhado de circunstâncias e ações do passado. Estamos hoje, aqui, por mero acaso, por uma parcialmente insondável e sempre muito complexa combinação de eventos.
Entendido esse pressuposto, pensemos o que quase vivemos. E saibamos que isso diz muito do que vivemos. Quase viver, como entendemos, foi uma possibilidade concreta de viver. Vivemos tempos ditatoriais em vários países da América Latina nos anos 1960 até o fim dos anos 1980. Tempos em que textos como este não seriam publicados, seu autor seria punido. Liberdade de expressão, de imprensa foram suprimidas ou duramente perseguidas junto de tantas outras liberdades. Nossas democracias podem ter muitos defeitos, mas foram conquistas duras, que custaram sangue, lágrimas, tempo. Em tempos ditatoriais, auto-homenagens foram comuns. Em Campinas, onde leciono, havia uma ligação até Barão Geraldo chamada de Costa e Silva. A memória popular consagrou outro nome para a via: o Tapetão. Em São Paulo, o mesmo presidente nomeava um elevado, popularmente chamado de Minhocão. Recentemente, promoveu-se a discussão se tais nomes deveriam permanecer e a vontade de trocá-los foi maior. Zeferino Vaz, primeiro reitor da Unicamp, batiza a via que continua atendendo por Tapetão. João Goulart dá nome àquela coisa que ainda atende por Minhocão. Há imenso simbolismo em renomear, certamente um jogo de poder. Você pode não concordar com os novos nomes, porém preferir o antigo é imperdoável. Só de podermos discutir e discordar dos nomes das coisas públicas é algo que se deve agradecer à democracia, não a uma ditadura.
Se é bizarro homenagear ditadores brasileiros, importar ditadores para homenagear beira o surreal. Foi o que quase ocorreu na Alesp. Um deputado propôs uma homenagem a Augusto Pinochet, que comandou o Chile durante uma ditadura brutal entre 1973 e 1990. Não é uma questão de direita e esquerda, todavia de democracia e Estado de Direito. Como uma casa democrática poderia homenagear um criminoso condenado por crimes contra a humanidade? A homenagem foi barrada. Só de ter sido cogitada é reveladora dos tristes tempos em que vivemos. Se acha exagero, volte e releia o texto. Uma carta quase jogada revela tanto quanto uma carta jogada. É preciso ter esperança.
Leandro Karnal é historiador e articulista da Agência Estado.
O post Cartas na mão apareceu primeiro em Jornal Cruzeiro do Sul.