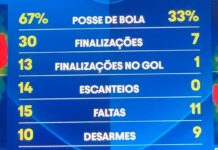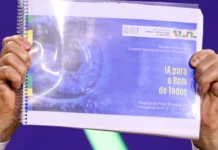O Rei Leão, remake da animação de 1994, apoia-se no inegável magnetismo da nostalgia para voltar aos cinemas. Com animação digital fotorrealista – não se trata de um live-action (longa com atores) no sentido puro do termo –, o diretor Jon Favreau pretende apurar o visual mostrado por ele em Mogli, o Menino Lobo (2016) e, ao mesmo tempo, garantir mais uma bilheteria bilionária para a Disney. Dinheiro, a produção deve fazer de sobra. E é só.
O Ciclo da Vida versão 2019 tem meia hora a mais do que o desenho de 25 anos atrás – à época, dono da segunda maior arrecadação da história do cinema. Diante da proposta sedutora de refazer um de seus produtos mais universalmente amados, a Disney aposta na ideia de uma nota só: a aparência, a superfície, o que se vê – mas não o que se sente.
Crítica: O Rei Leão tem realismo “perfeito” e nostalgia à beça. E daí?

Crítica: O Rei Leão tem realismo “perfeito” e nostalgia à beça. E daí?
5 FOTOS
 o-rei-leao-53
o-rei-leao-53Simba, Timão e Pumba: no “mundo real”
Disney/Divulgação
 The World Premiere Of Disney’s “THE LION KING”
The World Premiere Of Disney’s “THE LION KING”O diretor Jon Favreau: faz blockbusters (Homem de Ferro, Mogli), comédias indies (Chef) e interpreta Happy Hogan, “secretário” de Tony Stark, no Universo Cinematográfico Marvel (MCU)
Jesse Grant/Getty Images for Disney
 o-rei-leao-74
o-rei-leao-74Quando lançada, em 1994, a animação original fez a maior bilheteria do ano e a segunda maior da história. Será que o filme de 2019 também baterá recordes?
Disney/Divulgação
 o-rei-leão-disney3
o-rei-leão-disney3Live-action, só que não: versão “em carne e osso” do desenho original foi feito com animação digital fotorrealista
Disney/Divulgação
 o-rei-leao23
o-rei-leao23Scar e as hienas: vilania de cara feia
Disney/Divulgação
Fotorrealismo no lugar da fantasia
Noticia-se a torto e a direito na imprensa como Favreau orquestrou a saga de Simba, o filho único traumatizado pelo tio Scar, assassino de seu pai, o rei Mufasa, dentro de um ambiente de realidade virtual (VR, virtual reality, em inglês), como se estivesse jogando videogame num estúdio de cinema. De fato, uau.
O Rei Leão revisitado pode iniciar uma revolução na animação computadorizada e nos efeitos visuais. Agora tente imaginar um desenho de quase duas horas de duração todo assim, “perfeito” de tão realista e “em carne e osso”, no qual os animais não se movimentam e agem como criaturas de fantasia, dançantes e cantantes, mas como animais de verdade.
Lá pelas tantas, o trabalho de Favreau parece um experimento fetichista high-tech, uma autorreverência à guisa de histeria coletiva ou qualquer coisa do tipo. A experiência de assistir ao filme não é muito diferente daquela de tardes de folga preguiçosas: ligamos a televisão a cabo, zapeamos até para num documentário de natureza selvagem e, então, caímos no sono.
“Perfeição” vazia
A fábrica de sonhos da Disney dá o seu toque de “magia” (risos) ao mover a boca dos animais e contratar vozes de gente famosa – Beyoncé (Nala), Donald Glover (Simba), James Earl Jones (o Mufasa de 1994 e o de hoje), Seth Rogen (Pumba); no Brasil, Iza (Nala) e Ícaro Silva (Simba).
Obviamente, o novo Rei Leão afaga o fandom recriando momentos que ficaram tatuados nas memórias de gerações, como a morte de Mufasa e Timão e Pumba ensinando Simba a viver de boa com Hakuna Matata. Ficarão essas “atualizações” na história? Alguém se lembrará delas como das sequências de 1994? Essa meia hora a mais de história serviu para alguma coisa? Suspeito que não.
Essa fidelidade fotográfica doentia sufoca qualquer possibilidade de carisma do filme. Se os diálogos até conseguem convencer, bem como os trechos de ação, os números musicais são as porções que mais sofrem com a infeliz falta de fantasia e o excesso de “pés (ou patas) no chão” da narrativa. As piadas de Timão e Pumba também saem perdendo: a boa dublagem jamais encontra apoio na nada engraçada (e, sim, limitadora) animação pseudodocumental.